O triplo significado da morte de Marielle e os feminismos
- Brasil Debate

- 2 de abr. de 2018
- 5 min de leitura
Neste artigo retomo texto escrito em novembro, agora diante do atentado e morte da vereadora Marielle Franco. No contexto das violências de gênero e raça, vale nos perguntar o quanto a morte de Marielle significa “triplamente” feminicídio, genocídio negro e assassinato de ativistas e políticos na América Latina. Foram pelo menos 47 ativistas defensores de direitos humanos mortos no Brasil em 2015 (apenas entre janeiro e setembro) segundo dados do Comitê Brasileiro de Defensores/as dos Direitos Humanos. Segundo a Comissão Interamericana, 3 em cada 4 assassinatos ocorrem na América Latina.
Desenvolverei melhor a primeira parte deste “significado”: a violência e exclusão sofridas pelas mulheres e sua resistência política e intelectual. Mas, pontuando, que para a perspectiva interseccional, desenvolvida principalmente pelas feministas negras, as desigualdades/discriminações/opressões de gênero/raça/classe fazem parte de um mesmo mecanismo do patriarcado/capitalismo. E ainda, que as mulheres feministas são ativistas, portanto, possuem mais um fator para estarem na linha de frente no extermínio.
“O feminismo é um movimento para acabar com o sexismo a exploração sexista e a opressão”, sintetiza bel hooks no seu livro publicado em 2000. Para ela, enquanto feminista negra, classe social e raça são centrais para entender o funcionamento e manutenção das desigualdades de gênero. Esta última questão está longe de ser retórica. Segundo divulgados no Dossiê Feminicídio produzido pela Fundação Patrícia Galvão, enquanto o feminicídio entre mulheres brancas no Brasil entre 2003 e 2013 caiu 10%, entre as mulheres negras aumentou 50%. Além disso, segundo Dossiê Mulheres Negras do Instituto e Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) de 2009, as negras possuem menor escolaridade e menores salários, uma realidade histórica que se mantém em nosso país.
Neste mesmo livro, hooks delimita duas “abordagens conflitantes” dentro do feminismo: “feminismo revolucionário” x “feminismo reformista”, que me parece muito útil para leitura dos feminismos atuais. O feminismo reformista é caracterizado como aquele que se preocupa principalmente com a conquista de direitos iguais (como dito antes, entendidos principalmente como laborais) entre homens e mulheres, que transbordariam para outros segmentos. Não se preocupa especialmente com as relações de classe e raça entre homens e mulheres, com a maior exploração e violência sofrida pelas mulheres pobres, trabalhadoras e negras, ou seja, não questiona as bases de manutenção capitalista e exploração do trabalho, desejos e necessidades das pessoas – se colocava como mais um meio para mobilidade de classes.
Um “feminismo como estilo de vida” que se acomoda na ideia de que “pode haver tantos feminismos como mulheres no mundo” e para o qual não existe nenhuma contradição numa mulher conservadora, que não faz nenhuma crítica ao neoliberalismo. O “feminismo como estilo de vida”, associado muitas vezes a um “feminismo do poder” que abraça o poder mesmo que este esteja enlaçado com a exploração das outras pessoas e manutenção de discriminações pela origem social e cultural, raça, entre outras. Para a autora, reconhecer esse pensamento como parte do feminismo estaria fazendo com que a política feminista perdesse sua força.
Já o feminismo revolucionário se preocupa com essas questões, com a necessidade de rompimento com a própria ideia de poder e exploração e suas práticas, portanto, questionador do sistema capitalista, patriarcal e racista, entendidos com parte de uma mesma engrenagem. Para a autora, o feminismo negro em suas origens esteve ligado a radicalidade dessa abordagem.
No livro escrito pelo coletivo de jovens feminista Não me Kahlo encontrei um capítulo com tema muito similar – Empoderamento: da luta antissistema ao feminismo apolítico. As autoras relembram que a Segunda Onda Feminista acontece num momento de reestruturação do sistema capitalista e ascensão do neoliberalismo e de toda uma visão de meritocracia. Na análise do coletivo, apoiada na filósofa e teórica política Nancy Fraser, “o feminismo não se manteve imune a essa reestruturação do sistema e ao crescente individualismo” e muitas ideias feministas foram ressignificadas para aproximar-se a uma variante de política de identidade, preocupada com questões culturais e pontuais e distantes de questões econômicas e políticas mais amplas ou mesmo para demandas ou desigualdades materiais concretas.
Podemos pensar também numa relatividade do poder político das mulheres considerando a para lá de baixa ocupação de cargos políticos pelas mulheres no Brasil. Nesse sentido, avançamos pouco na representatividade das mulheres e das propostas feministas no sistema político.
Segundo dados de 2010, trazidos no livro de Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli, as mulheres ocupam menos de 10% das cadeiras como deputadas, 12% das cadeiras como vereadoras no Estado de São Paulo e menos de 10% de prefeitas, esses dados são “similares” para todo país. Tivemos uma única presidente na história que não conseguiu completar seu mandato. Marielle conquistou seu lugar nesta “minoria da minoria” de mulheres negras e pobres que alcançam o poder político e também não pôde terminar seu mandato.
Tanto os movimentos feministas, quanto as teorias feministas são políticas. Em diferentes medidas denunciam injustiças e privilégios e apontam caminhos para sua superação. A desigualdade entre homens e mulheres é um traço presente na maioria das sociedades e o feminismo questiona as bases para naturalização dessa desigualdade e seus pressupostos biológicos ou culturalistas. “Não é mais possível discutir teoria política ignorando e relegando às margens a teoria feminista”, afirmam Miguel e Biroli no livro recém-publicado; e “É preciso produzir e disseminar saberes que não sejam apenas sobre ou por mulheres, mas também de relevância para as mulheres e suas (nossas) lutas”, ressaltou a teórica feminista brasileira Cecilia Sardenberg, evidenciando que o mundo das ciências tem produzido ao longo da história fundamentalmente conhecimentos com vieses que não atendem aos interesses emancipatórios feministas.
Isso começa a ser questionado no Brasil entre as décadas de 80-90 quando surgem os primeiros grupos específicos voltados ao estudo da mulher, como o pioneiro Núcleo de Estudos sobre a Mulher na PUC do Rio de Janeiro e Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp em 1998, entre outros grupos de pesquisadoras, como os que fazem parte do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Estes passaram a questionar a desigualdade de gênero no âmbito das ciências e universidades.
Os estudos sobre as carreiras científicas passam a evidenciar a segregação horizontal (segregação de atividades por gênero, deixando as melhores remuneradas e prestigiadas para os homens) e segregação vertical, também chamada de “teto de vidro” ou “efeito tesoura” (dificuldades ou impedimentos das mulheres chegarem aos postos mais altos de uma carreira, chefias, gerências etc.).
Especificamente no que diz respeito ao acesso de mulheres à educação superior e às carreiras científicas (não considerando segmentação por raça/classe ou áreas de prestígio) a situação mudou para melhor no Brasil nas últimas décadas. Esses avanços não podem ser desprezados. Porém, para a perspectiva feminista (fundamentalmente a “revolucionária”), os avanços quantitativos não indicam necessariamente transformações na produção da pesquisa e nas estruturas acadêmicas.
Também persiste a questão da maternidade e dos cuidados, ou seja, não reestruturação da universidade para atender às necessidades de cuidado humano. Um espaço que, sendo lugar da pesquisa e inovação, deveria desenvolver e praticar propostas de alternativas e não manter o antagonismo “emprego x cuidados” ou “ascensão no emprego x cuidado e família”, que penaliza especialmente as mulheres.
Enfim, ainda há muito que fazer no âmbito da luta política e produção de conhecimentos e valores para vivenciarmos uma sociedade onde não tenhamos que diariamente lutar por estar vivxs com vidas que merecem ser vividas, em igualdade de direitos, sem opressões, discriminações, ameaças e lutas constantes. Seguimos!
Crédito da foto da página inicial: Renan Olaz/Divulgação CMRJ
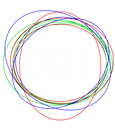





Comentários